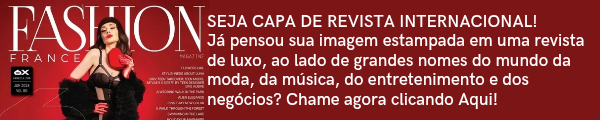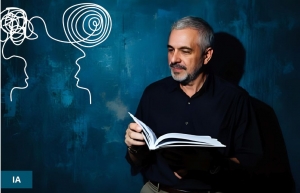Por Marco Assis
Psicanalista, graduado em Psicologia, especialista e doutor em Psicanálise, Universidad de Artes y Oficios de México.
Recentemente, um colega escreveu em um grupo de WhatsApp em que estou: “a quem interessa o discurso da saúde mental?”. Eu achei a pergunta muito interessante, porque a partir dela, podemos ir a muitos lados. Em primeiro lugar, esse discurso é “proferido” por quem? Dependendo do grupo que o proferir, teremos um resultado muito diferente. Neste artigo, vou partir do ponto de vista cultural, incluindo algumas possíveis visões.
Nos últimos anos, a saúde mental se transformou em um dos assuntos mais comentados em jornais, redes sociais e até mesmo em campanhas publicitárias. O tema ganhou espaço nas conversas do dia a dia, nos ambientes de trabalho e, de forma inédita, passou a ser considerado um marcador de qualidade de vida. Mas, diante dessa expansão, realmente cabe a pergunta incômoda: a quem realmente interessa o discurso da saúde mental?
De início, pode parecer óbvio responder: interessa a todos nós, afinal, todos temos uma vida psíquica e enfrentamos sofrimentos. No entanto, ao observarmos como esse discurso aparece na cultura, percebemos que ele não é neutro está impregnado de valores, interesses e formas de poder.
O discurso mercadológico da saúde mental
De um lado, vemos o mercado se apropriando da linguagem do cuidado. Empresas vendem aplicativos de meditação, treinamentos de “resiliência” e até pílulas da felicidade. A saúde mental, nesse cenário, é muitas vezes reduzida a desempenho, produtividade e bem-estar imediato. Fala-se em “prevenir o burnout” para que o trabalhador continue rendendo, ou em “controlar a ansiedade” para que se torne mais competitivo.
O discurso aqui interessa, sobretudo, às engrenagens do sistema econômico, que enxergam o cuidado como ferramenta de eficiência. Afinal, há a sensação de que se está tentando transformar em “terapêutico” uma série de coisas que antes não tinham relação direta à saúde mental. Com certeza você, leitor, deve ter visto alguma vez em redes sociais, soluções quase mirabolantes que prometem resolver vários problemas relacionados à saúde mental.
Ao mesmo tempo, esse fenômeno revela como o discurso da saúde mental pode ser moldado conforme os interesses que o impulsionam, transbordando os limites da mera preocupação com o sofrimento e tornando-se moeda de valor simbólico e social.
É nesse contexto que se percebe uma multiplicidade de vozes disputando espaço: enquanto algumas buscam simplificar e comercializar o cuidado, outras reivindicam a escuta atenta e o respeito à singularidade. Assim, entre estratégias de marketing e tentativas de normatização, o debate sobre saúde mental permanece aberto, repleto de nuances e atravessado por tensões entre o individual e o coletivo, entre o cuidado genuíno e as exigências do mundo contemporâneo.
O discurso biomédico
Outro protagonista é o discurso médico-biológico, que tende a olhar para o sofrimento humano quase exclusivamente pela lente do diagnóstico e da medicação. Claro que a psiquiatria e a farmacologia têm um papel fundamental, mas quando reduzimos a saúde mental a um desequilíbrio químico, corremos o risco de silenciar o sujeito e a sua história. Nesse caso, o discurso interessa à lógica clínica que precisa classificar e intervir, mas pode perder a riqueza da singularidade.
Além desses interesses, é preciso considerar o papel das políticas públicas e das práticas institucionais, que frequentemente utilizam o discurso da saúde mental para justificar intervenções, definir critérios de normalidade e estruturar serviços. Muitas vezes, discursos oficiais buscam promover inclusão e cuidado, mas também podem servir à regulação dos corpos e à administração dos modos de vida.
Entre regulamentações, protocolos e campanhas de conscientização, o debate se torna ainda mais complexo, exigindo atenção para não transformar a saúde mental em instrumento de controle social. É nesse cenário multifacetado, onde se cruzam mercado, medicina, instituições e sujeitos, que emerge a necessidade de resgatar a dimensão ética do cuidado, abrindo espaço para perspectivas que priorizem a escuta e a singularidade de cada pessoa. O discurso da psicanálise.
O discurso da psicanálise
A psicanálise, por sua vez, se insere nesse debate de forma contra-hegemônica. O que nos interessa não é padronizar o sofrimento, mas escutar o sujeito em sua experiência única. Não falamos de “ansiedade” ou “depressão” como rótulos definitivos, mas como expressões de algo mais profundo, enraizado na história de cada pessoa. Aqui, o discurso da saúde mental interessa ao próprio sujeito, não como consumidor de soluções rápidas, mas como alguém em busca de compreender-se e transformar-se.
Num cenário em que múltiplas vozes atravessam e disputam o sentido da saúde mental, é fundamental reconhecer que a conversa não pode se limitar aos interesses institucionais ou mercadológicos, ela pede um espaço onde o sujeito possa se expressar além dos diagnósticos e das soluções prontas. Ao resgatar a singularidade do sofrimento humano, abrimos caminho para um olhar mais atento ao desejo e à escuta, permitindo que o cuidado se transforme em experiência e não apenas em resposta automática a normas e expectativas.
Assim, o discurso da saúde mental revela potencial para ser ferramenta de emancipação, desde que seja capaz de transitar entre saberes, respeitando a complexidade do viver e devolvendo ao indivíduo o direito de narrar sua própria história, em direção a processos que priorizem acolhimento e abertura para novos sentidos.
Interessa a quem, afinal?
Se olharmos bem, veremos que o discurso da saúde mental pode servir a muitos senhores: ao mercado, à medicina, às instituições de poder e, felizmente, também ao indivíduo. O desafio está em separar o que é propaganda do que é genuíno, o que busca o lucro do que busca a escuta, o que silencia do que promove a palavra.
E é justamente aí que a psicanálise encontra seu lugar. Não como discurso pronto, mas como espaço de abertura: a possibilidade de cada sujeito dizer de si, descobrir o que sente e, quem sabe, encontrar novos caminhos para o seu mal-estar.
Reconhecer essas múltiplas camadas de sentido nos permite perceber que saúde mental não é um campo estático nem uma resposta já dada, mas sim uma construção viva, atravessada por histórias, contextos e necessidades específicas de cada tempo. Ao invés de buscarmos respostas universais ou soluções automáticas, talvez seja preciso sustentar o desconforto, dar espaço para dúvidas e incertezas e permitir que o sujeito se torne protagonista do próprio processo. Assim, a escuta se revela como prática ética e política, capaz de desmontar os discursos prontos e abrir brechas para experiências singulares, onde a transformação acontece sem pressa e sem moldes pré-fabricados.
A saúde mental não é um produto a ser vendido, mas um processo de escuta, acolhimento e transformação que só faz sentido quando devolve ao sujeito sua própria voz.